Que coisa são as nuvens (Tolentino Mendonça)
A PANDEMIA DEVOLVE-NOS A CONSCIÊNCIA DO LIMITE, AO MESMO TEMPO QUE NOS OBRIGA A REFLETIR SOBRE AS FORMAS DE HABITAR O MUNDO A QUE PODEMOS VOLTAR
O estado de exceção que estamos a viver faz-nos ansiar pela normalidade, absolutamente necessária para o relançamento da vida. Mas de que falamos quando falamos de normalidade? De um modo apressado, seríamos tentados a identificá-la com o regresso exato à vida que tínhamos anteriormente. A mesma vida, com a sua paisagem, os seus ritmos, rotinas, enquadramentos e motivações. Essa é uma ideia que nos devolve segurança: pensar que estes tempos estranhos assim como chegaram vão partir, como se de uma anomalia de circunstância se tratassem, e que nós e o mundo nos reencontraremos na mesma posição de há uns meses. Em grande medida será assim. Mas também é verdade que não seria normal que tudo fosse exatamente como dantes. Mesmo tornando ao quadro habitual da nossa vida, é importante que nos perguntemos “o que é que no mundo e em nós se modificou” e “o que é que aprendemos com isso”. Não desperdicemos, portanto, a oportunidade que representa, pelo menos, fazer-se perguntas. Isso o escritor João Guimarães Rosa sublinhava: “Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer outras maiores perguntas.”
A normalidade não é um conhecido lugar a que se volta,
mas uma construção onde somos chamados a empenhar-nos
Nem tudo permanece o mesmo quanto à nossa perceção do mundo e à garantia dos nossos estilos de vida. Globalizámos a economia e a comunicação sem prestar atenção às forças e às fraquezas do globo terrestre, descurando assim equilíbrios que precisamos de salvaguardar. Acostumámo-nos a uma visão utilitarista da realidade, pensada como um mecanismo que nunca dorme, assegurado a 100% para uma produção e um consumo ilimitados. Queremos sempre mais, sempre mais depressa, sem aceitar falhas. Vivemos acima das nossas posses como se os recursos — a começar por aqueles naturais — fossem inesgotáveis. Pensámos o espaço físico como um vasto open space onde tudo pode acontecer de forma contígua. Ora, a pandemia devolve-nos a consciência do limite, ao mesmo tempo que nos obriga a refletir sobre as formas de habitar o mundo a que podemos voltar e aquelas modalidades que teremos de superar. A presente pandemia começou por ser enfrentada como um assunto sanitário, mas evidentemente reclama que a interpretemos de um ponto de vista mais alargado, como uma encruzilhada civilizacional.
A normalidade não é um conhecido lugar a que se volta, mas uma construção onde somos chamados a empenhar-nos. Teremos certamente para lá chegar de reaprender a conjugar transformação e preservação. Porque este momento, a par da criatividade, também nos pede uma capacidade de perseverar, lutando para que o nosso património humano mais fundamental não seja omitido, porque somos seres de relação e não podemos viver sem comunidades. Uma das mais belas imagens destes dias é a de um avô de Michigan, nos Estados Unidos, que caminhou quilómetros a pé para ver, através da janela, uma neta que acabara de nascer. Na fotografia que circulou internacionalmente, está de um lado o jovem pai com a criança ao colo, e, do outro lado da vidraça, o sorriso indestrutível de um homem avançado em anos que, naquele momento, se sentirá a criatura mais feliz sobre a terra. A nova distância interpessoal não se pode tornar simplesmente um condicionamento (psicológico e social) que nos condene à solidão. A pandemia tem forçado a muitos “lutos relacionais”: desde a suspensão das práticas comunitárias ao reforçado isolamento dos idosos; desde a abolição do simples aperto de mão à situação daqueles pais que, reentrando em casa vindos do trabalho, hesitam em abraçar os próprios filhos. Mas é verdade também que se têm encontrado formas de comunicação e de presença que, não sendo substitutivas das anteriores, têm garantido o exercício comum da nossa humanidade. Este, a pandemia não deve poder suprimir.
in Semanário Expresso, p 169, 10.05.2020


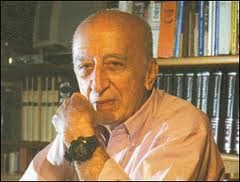
Lido e sublinhado vezes sem conta...
ResponderEliminarÉ o máximo este senhor.
Beijo.